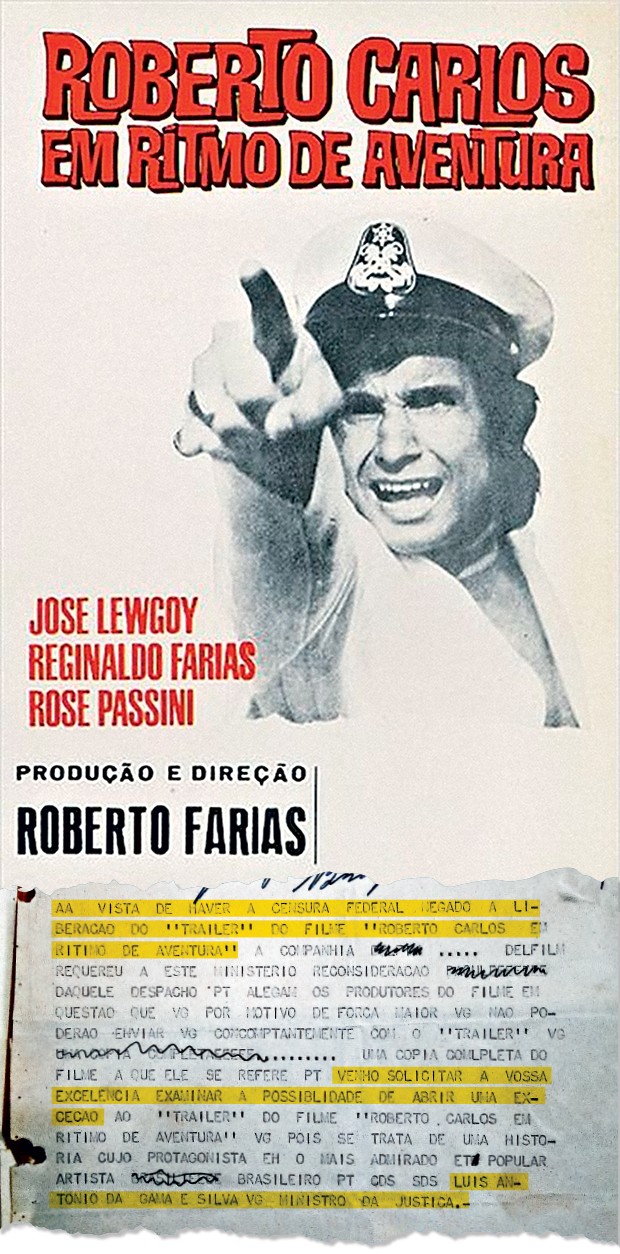Hoje,
quase todo mundo é contra a ditadura. Mas, nos anos mais pesados do regime,
pouquíssimas pessoas se levantaram contra ele. No futebol não foi
diferente. Foram 21 anos sob as ordens dos militares. A população
brasileira passou mais de duas décadas permeada pela supressão dos direitos,
pela censura, pela repressão – obviamente, em intensidades nem sempre
constantes. No entanto, não foi ao longo dos 21 anos que o futebol, um dos
principais símbolos culturais do Brasil, levantou sua voz contra a ditadura. Os
exemplos são raros, passíveis de se contar nos dedos. E, mesmo assim, a maioria
delas saindo da garganta de indivíduos, jogadores.
Na
maior parte do tempo, os clubes se mantiveram alheios ao regime que imperava no
país. Não interessava muito para eles misturar futebol e discussão política.
Mas isso até a segunda página, claro. Afinal, a organização dos clubes sempre
esteve inserida em jogos de interesse, trocas de favores, clientelismos e
dependência financeira. Principalmente em tempos de autoritarismo, quando a
liberdade para a tomada de decisões era mínima.
Ainda assim, não dá para ser categórico ao classificar a postura
de um time durante a ditadura militar. O Corinthians teve sua Democracia, mas
também um presidente ligado à repressão – Wadih Helu, que colaborou com o golpe
de 1964 e que, ao lado de José Maria Marin, pediu investigações contra os
subversivos jornalistas da TV Cultura. A escalada de investigações acabou
terminando na prisão e, depois, na tortura e morte do jornalista Vladimir
Herzog – justamente da TV Cultura.
Da mesma forma, o Fluminense. Enquanto Francisco Horta denunciou
os desmandos do Almirante Heleno Nunes na CBD, em 1977, jogadores apoiaram o
ex-arenista Paulo Maluf sete anos depois. “ Os clubes envolvem torcidas de
diferentes posições políticas e sociais”, analisa Laércio Becker, pesquisador e
autor do artigo ‘A Futebolização da Política’. Para ele, a oscilação dos
dirigentes é normal. Afinal, uma torcida só tem algo em comum – paixão pelo
clube. Quando o assunto é política, diz Becker, “não existe algo uniforme”.
O dinheiro dos clubes vinha do governo
Para discutir a omissão dos clubes em relação à ditadura,
especialmente até meados da década de 1970, é essencial pensar que o contexto
econômico da época era totalmente diferente. Não existiam acordos milionários
de marketing, fortunas sendo pagas na transferência de jogadores ou torneiras
jorrando com direitos de transmissão de TV. A renda dos jogos era essencial,
assim como as mensalidades daqueles que frequentavam o clube social. O problema
é que nem sempre a conta fechava. E, nesse contexto, os dirigentes se
acostumaram a abusar do dinheiro doado por seus ‘superiores’: os governos e as
federações. Uma relação de dependência que ainda pode ser notada atualmente,
mas que era muito mais intensa naqueles anos do regime.
A
dependência também significava subserviência, inclusive no distanciamento
político. “Não é diferente do que fez a CBD em relação à ditadura. É preciso
pensar que o orçamento dos clubes era menor que o atual. Era uma relação de
obediência, aceitando como se aquela situação política fosse normal. Era uma
consequência direta da postura das entidades, que também dependiam do governo”,
analisa o jornalista Roberto Assaf, autor de, entre outros livros, História Completa do Brasileirão.
Não eram raros os mecanismos criados pelo governo para
satisfazer a sede de dinheiro dos clubes. A própria loteria esportiva pode ser
citada como um exemplo disso, algo promovido pela ditadura a partir de 1969 e
que seria fundamental à evolução do futebol brasileiro nos anos seguintes, com
seu dinheiro revertido para as competições. Da mesma forma, o Campeonato
Brasileiro só foi viabilizado em 1971 depois que o Ministério da Educação e
Cultura concordou em bancar viagens e estadias das equipes.
Inclusive, alguns dirigentes tornavam públicos pedidos de
dinheiro ao governo, bem como a amortização de dívidas. Segundo o jornalista
Marcos Guterman, autor do livro ‘O futebol explica o Brasil’, o Santos chegou a
solicitar ao Presidente Médici uma doação para que pudesse controlar os seus
gastos – e isso nos tempos de Pelé, quando os alvinegros tinham exposição
mundial e a chance de fazer um bom dinheiro com excursões. Já a Revista Placar
de abril de 1970 relata que o Londrina pediu ao presidente para perdoar uma
dívida com o INPS. Apenas dois exemplos bem divulgados de uma prática que, no
geral, era bastante comum.
As grandes obras
Os maiores emblemas dessas benesses
financeiras aos clubes eram mesmo os estádios de futebol. Embora a maioria das
obras fosse pública, os grandes beneficiados eram os clubes, que poderiam
incrementar seus balanços com as rendas dos jogos, sem precisar tirar um tostão
do bolso. Era um subsídio aos clubes, no final das contas. Assim, muitos times
do interior do país, bem como de capitais do Norte, do Nordeste e do
Centro-Oeste, acabavam sustentando as bases do regime para serem agraciados com
estádios a custo zero. Pelo menos 50 estádios com capacidade para 20 mil
torcedores ou mais foram levantados fora das capitais de Sul e Sudeste entre
1964 e 1985.
Até os estádios particulares levantam
suspeitas. Afinal, era favorável à ditadura fomentar a construção de obras que
demonstrassem a grandeza do país em meio ao milagre econômico. Inaugurado em
1972, o Arruda é do Santa Cruz, mas foi bancado por um empréstimo do Bandepe, o
antigo banco público de Pernambuco. O nome oficial do estádio, aliás, é José do
Rego Maciel – um político da Arena, o partido do regime militar. O Sport
seguiria no mesmo caminho, com o projeto megalomaníaco do Estádio Presidente
Médici. Ele teria capacidade para 140 mil pessoas e foi planejado por Oscar
Niemayer. Por falta de dinheiro, não saiu do papel.
Já no sul do país, os dois principais estádios particulares
erguidos na época do regime foram o Beira-Rio e o Morumbi – este inaugurado em
1960 e ampliado depois, contando com a participação de Médici na reabertura, em
1970. Enquanto entre os colorados prevalece a ideia do mutirão para a
construção de sua casa, os registros dos tricolores mostram que nenhum dinheiro
público foi liberado para as obras durante a ditadura. “Costumam relacionar a
ampliação do Morumbi a Laudo Natel. Mas o dirigente não era mais governador na
época das obras, entre 1968 e 1970”, conta Michael Serra, historiador do São
Paulo. O que não pode ser medido, por não estar em registros oficiais, é o
quanto de relação política foi usada nos bastidores para facilitar quaisquer
construções. Afinal, construtoras, no Brasil, vivem de obras públicas. E sempre
é conveniente agradar a quem está no poder. Uma discussão que,
ressalte-se, também é muitíssimo contemporânea – por exemplo, diante das
relações que podem ser feitas entre o ex-presidente Lula e o Itaquerão. Não há
provas, apenas indícios.
Tramas
que envolviam clubes que nem mesmo ergueram estádios no período da ditadura. O
Flamengo talvez seja o maior símbolo, sistematicamente chamado para as
inaugurações desses campos. Em um dos casos, os rubro-negros estrearam o
Verdão, em Cuiabá, com direito à presença do presidente Ernesto Geisel nas
arquibancadas e à exibição da faixa ‘Brasil, 12 anos de paz e segurança’ .
“As coisas no Flamengo passam muito rápido. A cobrança é tanta que um amistoso
vira jogo de Copa do Mundo. Essa alienação não nos permitiu perceber que,
naquela ocasião, não eram cartolas nas arquibancadas, eram militares”, narra Zé
Roberto, ex-jogador de Flamengo e Fluminense, autor do artigo ‘Desculpe-nos, família
Herzog’, que fala sobre esse episódio no Mato Grosso.
O
jogo político também pesava
A
gente pode ter um pé atrás com eles, mas é inegável que os cartolas dos
principais clubes do Brasil estão entre as pessoas mais influentes do país.
Afinal de contas, eles comandam entidades que mobilizam milhões de pessoas. Na
ditadura, a situação era a mesma.
Naquela
época, muitos dos dirigentes estavam alinhados ideologicamente com o regime e
colocaram os clubes a serviço do regime. Segundo o historiador René Armand
Dreifuss, representantes de Corinthians, Palmeiras, Portuguesa e São Paulo
apoiavam a realização do golpe de 1964, membros de organizações populares que
eram consideradas importantes pelos militares. Se muitos dos presidentes de
federações eram oficiais ou políticos, o mesmo acontecia, ainda que em menores
proporções, entre os dirigentes dos clubes.
Wadih Helu, deputado estadual pela Arena, era presidente do
Corinthians. Já Laudo Natel chegou a conciliar o governo de São Paulo com a
presidência do São Paulo. “Inclusive quando era governador, Natel costumava
ficar à beira do campo nos jogos do clube. Mas não sei até que ponto a presença
fazia diferença para os jogadores. Em geral, eles eram alienados. As
declarações da época não deixam a impressão de haver esse terror. O que poderia
acontecer era o medo por ser uma autoridade, considerando a origem simples da
maioria dos jogadores”, afirma Alexandre Giesbrecht, pesquisador da história do
São Paulo e autor de livros sobre o clube.
E
esses laços fortes não eram exclusividades dos grandes clubes do país. Na
inclusão de times no Campeonato Brasileiro durante a gestão de Heleno Nunes na
CBD, o famoso ‘onde a Arena vai mal, um time no nacional’, esse clientelismo
era bastante claro. Em 1978, por exemplo, o Itabuna entrou na competição graças
a um mutirão organizado pelos produtores de cacau da região, assim como por
intervenção do governador baiano Roberto Santos, que queria tirar o prefeito do
MDB do comando do município. Já em 1976, duas ações no Vale do Paraíba. Os
arenistas obrigaram a união de clubes para formar o Volta Redonda, um
representante forte da cidade da Companhia Siderúrgica Nacional. Já o prefeito
biônico de São José dos Campos comprou o estádio do São José, salvou o clube
das dívidas e provocou uma mudança nos símbolos da equipe. Não à toa, clubes de
‘áreas de segurança nacional’.
Mesmo
que um clube não tivesse necessidades financeiras, interesses extracampo ou
laços políticos, era impossível que ele cortasse o cordão umbilical do regime.
Afinal, a legislação vigente fazia com que ele se mantivesse atrelado às
decisões centrais. Durante o regime, ainda prevalecia o Conselho Nacional de
Desportos (CND), criado por Getúlio Vargas em 1941, em bases de um Estado
totalitário. Durante este período, quando houve mudanças, especialmente em
1975, foram para privilegiar as federações em detrimento aos clubes. “É preciso
olhar o histórico do CND, com muitos pontos absurdos, um texto que se
assemelhava às políticas de esporte da Alemanha nazista de Hitler e da Itália
fascista de Mussolini. Até a mudança da legislação, os clubes eram obrigados a
respeitar as normas do governo”, pontua Roberto Assaf.
Durante os ‘Anos de Chumbo’, de 1968 a 1974, a grande exceção
entre a postura obediente dos clubes foi de Grêmio e Internacional. Em 1972, o
governo preparava uma grande festa pela comemoração dos 150 anos da
Independência do Brasil, usada também como propaganda política. E, entre as
festividades, estava a Taça Independência, uma ‘Mini Copa do Mundo’ disputada
pela Seleção. Contudo, a ausência de Everaldo na convocação do técnico Zagallo,
o único jogador do Rio Grande do Sul a se sagrar campeão em no Mundial 1970,
causou uma comoção popular entre os gaúchos. A ausência do lateral foi
considerada um desaforo, e resultou em um amistoso disputado entre o Brasil e a
Seleção Gaúcha, composta por jogadores de Grêmio e Inter – mesmo estrangeiros
ou nascidos em outros estados. “O Beira-Rio estava enfurecido. Foram 110 mil
pessoas, que vaiaram o Brasil do primeiro ao último minuto. Era como se
estivesse em uma situação de guerra, uma manifestação de resistência à ditadura.
Uma inevitável referência à Revolução Farroupilha. Também foi a única vez que
os rivais se uniram”, afirma o historiador Cesar Guazzelli, professor da UFRGS.
A partida terminou empatada em 3 a 3.
A
relação entre clubes e jogadores
Se
durante a época mais repressiva da ditadura os clubes se mantinham alinhados
com o regime, também eram raríssimos os casos de jogadores que transgrediam ao
sistema. Afonsinho foi um grande símbolo desse momento, tanto por seu
envolvimento com o movimento estudantil, quanto por sua imagem rebelde, com
barbas e cabelos compridos. E sua briga pelo direito ao passe livre gerou ecos,
tanto pelo exemplo em uma sociedade censurada quanto por desdobrar outras
lutas, como a de Raul Plassmann, que se desligou do Cruzeiro e depois negociou
seus direitos com o próprio clube.
O
momento mais marcante de Afonsinho aconteceu em seu retorno ao Botafogo, em
1971, pouco antes de iniciar efetivamente sua briga pelo desligamento do clube.
”Quando me apresentei ao time, tive problemas com o Zagallo. Diziam no clube
que por causa da minha barba, do meu cabelo, eu estava parecendo músico do
‘Iê-iê-iê’, como o rock era chamado naquela época”, afirma o próprio jogador.
Da mesma forma, outro nome importante era o de Paulo César Caju. O craque representava
outra quebra de paradigmas por seu envolvimento com o movimento afro, visto com
preconceito por muitos. Embora fosse apolítico, passava longe do comportamento
considerado como ideal.
Ainda assim, as retaliações contra Afonsinho e Caju se concentravam
em suas imagens, não em relação ao debate político. Um silêncio que não tinha
tanta relação a uma possível repressão dos clubes. Ele era mais ligado ao
distanciamento do debate político dos técnicos e da alienação da maioria dos
jogadores. “Os cartolas eram como hoje, omissos em relação aos atletas. Já os
profissionais da comissão técnica que emergiram naquele momento, saídos da
Escola de Educação Física do Exército, eram muito competentes, mas não
discutiam política. Estávamos em uma bolha, éramos alienados. Eu só percebi
isso depois que fui cortado das Olimpíadas de 1972, quando fiquei desiludido e
me matriculei na faculdade de direito. Ali eu vi como os atletas poderiam dar
voz contra a ditadura e não faziam”, coloca Zé Roberto. “Posso dizer de coração
que ninguém discutia política, era pura alienação. Meus professores na
faculdade falavam de política, mas os professores nos clubes só falavam de
tática”.
A
reabertura política, a abertura do futebol
Sociedade
e política costumam andar lado a lado. E isso ficou evidente a partir da metade
final da década de 1970, quando as manifestações de jogadores e as liberdades
dentro dos próprios clubes se tornaram maiores. A própria organização do
futebol brasileiro mudava. A CBD dava lugar à CBF, que passaria a cuidar dos
interesses dos clubes. Era uma maneira de tentar tornar o Campeonato Brasileiro
rentável e realmente interessante. Em tempos de crise do petróleo, com as
fontes de dinheiro do governo secando, os paulistas preferiram desistir da
disputa do torneio nacional em 1979 para se dedicarem ao estadual, mais
rentável. Corinthians, Santos e São Paulo não entraram no certame.
Com
o dinheiro desaparecendo, os dirigentes começavam a se afastar do regime para
buscar outros meios de se viabilizar financeiramente. “Houve uma grande briga
quando o Nuzman tentou colocar patrocínios nas camisas do vôlei a partir da
metade final dos anos 1970, o que teria consequências também no futebol. Ele
teve que derrubar vetos do CND. Não dá para imaginar que ele e o Havelange lutavam
apenas por amor ao esporte. Mas a partir disso, os clubes ganharam uma nova
renda, puderam fazer parcerias com empresas”, relata Roberto Assaf. Outro
momento marcante é encabeçado pelo Flamengo. Márcio Braga chegou à presidência
do clube em 1977, em uma época na qual as transmissões dos jogos se expandiam.
E os rubro-negros foram os pioneiros a exigir o pagamento dos diretos de TV.
Ao mesmo tempo, os próprios jogadores começaram a mudar aquela
realidade. Zé Mario no Vasco e Zico no Flamengo faziam uma dobradinha para
criar o sindicato dos atletas no Rio de Janeiro, enquanto a organização dos
atletas também tomava forma em outros estados. Já Sócrates e Reinaldo apareciam
com um discurso político bem mais contundente. “Até chegar a figura do
Sócrates, não havia luta política, os jogadores lutavam mais pela classe.
Quando eu estava na universidade, levava para a concentração textos para
discutir política. Tanto que passei a ser conhecido como ‘Pasquim’ pelos meus
companheiros. Mas não havia esse posicionamento dos jogadores”, analisa Zé
Roberto. O próprio Reinaldo afirma que não temia sofrer retaliações internas no
Atlético Mineiro, por ser o principal jogador do clube e também o mais popular
entre os torcedores. E um bom exemplo disso é que o presidente do Galo, Valmir
Pereira, veio a público defender a convocação de seu craque, diante das
acusações de que ele só estava ausente da seleção por motivos políticos.
Nesse
processo de distensão, as torcidas também contribuíam para deixar para trás as
omissões dos clubes nos tempos mais duros, tornando rotineiras as manifestações
que eram pontuais nos Anos de Chumbo. Em 1976, os colorados vaiaram a polícia
militar, que impediu que se respeitasse um minuto de silêncio a João Goulart,
seu ex-jogador da base e presidente deposto pelo golpe. Os corintianos levaram
faixas apoiando a anistia em 1979. Em 1984, meses depois que torcedores de
Vasco e Fluminense abafaram o hino nacional com os gritos de ‘Diretas Já’ na
final do Brasileirão, tricolores e flamenguistas apontavam que Tancredo Neves
era a solução, durante a decisão da Taça Guanabara. Já atleticanos e
cruzeirenses gritaram em uníssono o nome de Tancredo em um clássico, às
vésperas do dia da posse do primeiro presidente civil em 21 anos, que estava
internado em estado grave.
Não
havia motivo para os clubes reprimirem essas manifestações populares. A
dependência financeira do governo já era bem menor, assim como os laços
políticos. E embarcar na onda de otimismo pelo novo país que se desenhava era
benéfico. Em uma perspectiva histórica, até fica a impressão de que, em alguns
casos, os dirigentes combateram a ditadura durante os 21 anos. Entretanto, cabe
lembrar que todos tem sua parcela de culpa. A omissão podia evitar a repressão,
mas não trazia perspectivas de um Brasil livre.
fonte: http://trivela.uol.com.br/o-que-o-seu-clube-fez-durante-ditadura/